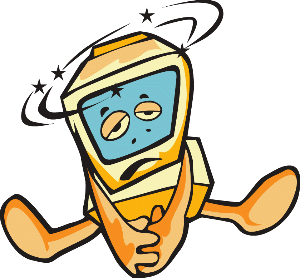
A pax Zuckerberg
por José Eisenberg e Rodrigo Mudesto
[Reproduzido da revista Ciência Hoje nº 300]
São quase 1 bilhão de usuários e cerca de 3 bilhões de postagens diárias. A magnitude da penetração social do Facebook – lançado em 2004 pelo programador norte-americano Mark Zuckerberg – é indiscutível. Embora experimente uma desaceleração de novas adesões e mesmo uma retração em mercados mais antigos, como os Estados Unidos (redução de 0,6% no número de usuários no primeiro semestre de 2012), não há dúvida que essa plataforma de interação social continua a ser o mais bem-sucedido produto da segunda geração da rede mundial de computadores – a chamada Web 2.0.
Seu sucesso estaria vinculado, buscam demonstrar os estudiosos, à vitória na busca de hegemonia na constituição das chamadas “redes sociais”. Plataformas on-line, como o Facebook, possibilitam vínculos frágeis e remotos entre pessoas que talvez nunca se encontrem face a face. Ali, os usuários procuram gerenciar bases de conhecidos, manter contato com pessoas desconhecidas e com outros dos quais, de outra forma, teriam poucas notícias.
Não há como negar que isso é feito de maneira eficiente no Facebook. Mas o que significa ter “1 milhão de amigos” nessa plataforma? Há razões para crer que sua contínua expansão exigirá a superação da atual “pax Zuckerberg”, essa aparente hegemonia de uma plataforma de acesso a redes sociais. Talvez essa superação surja da reinvenção do próprio Facebook. Talvez não. Vejamos por quê.
O espírito da Web 2.0
A primeira geração da rede mundial de computadores se baseava em conceitos como o de sítio (site), locais preparados para receber visitantes passivos e que pareciam oscilar em seus objetivos entre algo como galerias de arte e panfletos varejistas. Era a época do correio eletrônico (e-mail) e das ferramentas de buscas: primeiro o Yahoo!, depois o Google. A internet era administrada por web designers e programadores – entre estes, alguns mais habilidosos usariam seus conhecimentos para invadir sítios e outros sistemas, às vezes com propósitos ilícitos, e ficariam conhecidos como hackers.
Entretanto, à medida que cresciam a capacidade de processamento dos computadores pessoais, a qualidade e a facilidade da digitalização e produção de conteúdo (textos, filmes e fotos amadoras), e principalmente as velocidades de fluxo de dados, o recurso a profissionais para produzir conteúdo tornou-se desnecessário. Além disso, o conceito de página na internet (homepage) como portfólio pessoal ou empresarial mostrou-se insuficiente para atender às demandas de uma inclusão digital que se expandiu de modo explosivo, tanto na demografia dos usuários quanto na infraestrutura tecnológica. Para dar uma ideia, somente no Brasil havia 19 milhões de internautas antes da criação do Facebook em 2004. Hoje, são mais de 81 milhões.
(…) Coincidência ou não, o primeiro salto coincide com a explosão do Orkut, primeira plataforma de redes sociais com ampla capilaridade no Brasil (ver ‘A invasão brasileira do Orkut’, em CH 226). Já o salto de 2008 certamente está relacionado ao aumento igualmente significativo do número de usuários de computadores nas residências, resultado da diminuição dos custos dos equipamentos. Vale ressaltar, ainda, que é também nesse ano que se verifica uma queda de 34% dos usuários do Orkut na América Latina, sinalizando a entrada na região de outras plataformas, em particular o Facebook. Este, no Brasil, ultrapassou o número de usuários do Orkut em setembro de 2011.
Do ponto de vista de conteúdos, a nova inclusão digital e suas demandas induziram uma adaptação, tanto desejada quanto forçada, a um público cada vez mais amplo e diversificado. Os novos internautas eram ávidos por interação, mas estavam pouco preocupados com os protocolos ou a estética profissional requeridos para uma boa navegação por sítios de interesse. Essas novas demandas de usabilidade das redes ensejaram críticas estetizadas ao chamado “culto do amadorismo” – a ideia, propalada pelo teórico norte-americano Andrew Keen, de que o espaço cibernético estaria gerando uma cultura de banalidades e informações imprecisas, em meio à proliferação de autores.
Mesmo que tal crítica, no fundo, demonstrasse apenas o incômodo dos setores mais escolarizados da sociedade por ver seus identificadores de distinção serem rapidamente assimilados, copiados e massificados, o fato é que o crescimento da demanda por conteúdo encontrou vazão em redes de colaboração e em formas de reprodução que inegavelmente superaram as maiores expectativas dos grandes entusiastas dos meios de comunicação social no século passado.
O novo modelo introduzido pela Web 2.0 tornou a produção de conteúdo pouco rentável e subverteu fortemente a economia dos sítios, gerando um novo modelo mais complexo, onde oferta e demanda, produção e consumo, não podem mais ser atribuídas a atores distintos. Foi ao se apresentar como território dessa interação que o Facebook se mostrou mais eficiente que outras plataformas de interação como Orkut e MySpace e, por ora, até mais que o Twitter.
Os usuários de internet dessa nova rede buscam algo que se pareça com levar os filhos à piscina de bolhas do shopping center, trocar receitas de pudim ou fofocar “tomando uma” com os amigos no boteco do quarteirão. Um feirão onde se possa passar o carro velho com cara de novo também é sempre útil. Os revolucionários programadores vão para uma (cada vez mais nem tão) bem remunerada retaguarda e ganham as ruas jornalistas digitais sensacionalistas, blogueiros, comediantes de stand-up, adolescentes “fashionistas”, pregadores, oradores e artistas amadores. Ou seja, o tipo de gente que sempre chama a atenção quando avistada, seja na página da revista, na feira ou na televisão, o tipo de profissional que tão bem alimenta nossa necessidade de rodas de bate-papo.
É verdade, e digno de nota, que os recursos interativos do modelo da Web 2.0 também permitiram o crescimento do Wikipedia e de seus primos pobres do conhecimento colaborativo on-line. Essas iniciativas, entretanto, ainda guardam os traços originários da geração anterior da rede mundial. Se sua produção incorpora dimensões da Web 2.0, seu modelo de interação com o usuário final ainda destina a este um papel passivo de consumidor de informações.
Emerge na rede mundial de computadores, portanto, um sem-número de grupos constituídos por fracos vínculos institucionalizados, cuja função é estabelecer fóruns de conversa, debate e controvérsia sobre os mais variados temas. O Facebook e seus similares constituem fluxos rotinizados de comunicação distantes de sua imagem no senso comum: eles não são horizontais, descentrados e despojados de formas hierárquicas de organização social. Ao contrário, como em toda interação social, há mediadores que disciplinam esses fluxos. Nas redes sociais, os principais mediadores são os próprios aplicativos utilizados na plataforma de interação para essa socialização não presencial. A plataforma – isto é, a mídia – é sempre o principal filtro.
A paisagem da rede: o navegador
Inicialmente, a tentativa da empresa Microsoft de integrar DOS (um sistema operacional “interno”), Windows (até meados dos anos 1990, apenas um sistema de interação entre o usuário e o computador, ou seja, uma interface) e Internet Explorer (programa para a “navegação” na rede mundial de computadores) como um só produto enfrentou a resistência de governos e de outras empresas (como a Netscape) e produtos (como o Mozilla Firefox). Na estratégia da Microsoft, porém, já era possível perceber a centralidade que o “navegador” lentamente ganharia.
Essa centralidade se tornaria mais evidente quando, no final de 2008, surgiu o Chrome, estratégia da Google para sobreviver à decadência dos sítios de busca de dados na internet e continuar a controlar a rede que se tecia por trás das redes. Aparentemente apenas mais um navegador para a internet ao ser criado, o Chrome e os navegadores de sua geração vêm lentamente ocupando o lugar de “interface amigável” ou de “ambiente”, como o Windows era chamado antes de terminar de “fagocitar” o DOS.
Nesse novo mundo, redes sociais são a síntese, com a cara do novo usuário, de dois tipos diferentes de aplicativos, o sítio de busca e a mensagem instantânea, como nos casos de Altavista e ICQ, Yahoo e Skype. A sobrevivência e a expansão da Google, em particular, devem ser atribuídas ao fato de este sempre ter sido mais que um mero “buscador”. Onipresente na internet, a Google move-se agora para sublimar a própria presença. Amplia seus aplicativos para atender às demandas dos novos usuários e constrói sua própria versão de plataforma de redes sociais, o Google+.
A empresa sabe, entretanto, da importância do Chrome, que já é o navegador mais utilizado no mundo: 35% do mercado em outubro de 2012, segundo a Statcounter, empresa independente de análise da internet. É enxuto, lépido e de fácil uso em qualquer sistema operacional, e a Google adotou a estratégia de integrar produtos ao Chrome, tanto os seus quanto os dos concorrentes, de forma a tornar sutil, senão invisível, sua presença nos múltiplos usos a que os usuários dedicam o equipamento de sua preferência. Afinal, independentemente de qual seja a plataforma de redes sociais preferida pelo usuário – Orkut, MySpace, Tumblr, Google+ ou Facebook -, sem um navegador de internet (ou um aplicativo para dispositivo móvel que simule um), não é possível interagir nelas.
Na atual onda de democratização da informática, as duas décadas de corrida de bastão entre programas (software) e equipamentos (hardware) levaram a uma modernização para a qual novos usuários demonstram certa indiferença. Até pouco tempo atrás, o ritmo da evolução tecnológica era ditado pelo lançamento de cada nova geração do Windows, que se adaptava a uma nova geração de processadores e vice-versa. Hoje, aguarda-se a nova atualização do navegador de preferência do usuário, seja para computadores (desktops e notebooks), seja para outros produtos, como netbooks, tablets ou celulares.
Todos esses caminhos, porém, parecem ainda levar ao Facebook. Aqui há pouca originalidade, mas muita eficácia. O segredo é oferecer o exótico de todos para todos; em qualquer programa com navegador, para qualquer máquina. Há alguns anos, o Orkut fracassou porque não só oferecia o exótico, como também obrigava o usuário a conviver com ele. Brasileiros, indianos e iranianos, principais usuários da primitiva rede, assustaram uma internet em permanente fluxo de transformações quando invadiram o Orkut e, em menos de um ano, colocaram a periferia da internet no centro da produção de postagens daquela plataforma.
Eram línguas estranhas de gente esquisita; enfim, nada mais assustador para um cidadão cosmopolita do mundo globalizado do que estabelecer vínculos, mesmo que frágeis, com um universo desconhecido e alheio a sua experiência de navegação da internet. O segredo do Facebook foi ter criado uma “pax Zuckerberg”, onde é possível navegar na rede, usar serviços de mensagem, jogar, ver vídeos, ler textos e uma gama em constante ampliação de serviços integrados, sem abrir mão dos provincianismos, sem sair do conforto da vizinhança. É possível encontrar todas as possibilidades da internet dentro do Facebook. Na verdade, quase todas.
Por enquanto, o acesso ao Facebook ainda depende da centralidade do navegador de internet. A hegemonia dessa plataforma de redes sociais está sujeita à dinâmica comercial e tecnológica determinada por “inimigos”, concorrentes da indústria de software da Web 2.0. Nesse caso, podemos concluir, a máxima do cancioneiro popular é sem sentido: o Facebook não é o mar que nos navega. Ainda somos nós que navegamos esse mar. Ao menos até que uma ideia melhor de como conviver com vizinhos seja produzida pelos programadores dos porões estratégicos da economia da internet. Já há quem fale em Web 3.0, com ênfase ainda maior nos equipamentos portáteis, como celulares e outros. Enquanto isso não acontece, independentemente de quantos costados tem o navio, navegar é preciso. E o Facebook ainda não é um navegador. Ainda.
. . .
. Sugestões para leitura:
* EISENBERH, J. e CEPIK, M (orgs.). Internet e política. Teoria e prática da democracia eletrônica. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2002;
* GRAHAM, G. The Internet – a philosophical inquiry. Londres e Nova York, Routledge, 1999;
* KEEN, A. O culto do amador. Como blogs, MySpace, YouTube e a pirataria digital estão destruindo nossa economia, cultura e valores. Rio de Janeiro, Zahar, 2009;
* WINSTON, B. Media technology and society. A history: from the telegraph to the internet. Londres, Routledge, 1998.
{ Observatório da Imprensa }